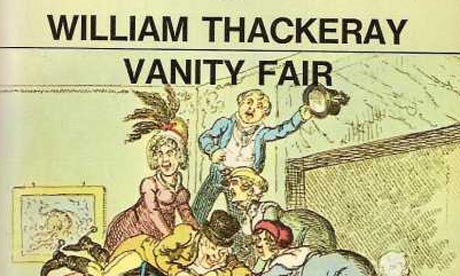
Roberto Rillo Bíscaro
Em 1678, John Bunyan lançou o religioso Pilgrim’s
Progress, alegoria moralizante que narra a jornada de Christian, desde sua
natal Cidade da Destruição (nosso mondo cane) até a Cidade Eterna (o Paraíso,
onde mais?). Uma das estações dessa peregrinação é a eterna Feira das Vaidades,
onde pessoas apenas se apegam aos bens materiais.
Critica-se o tal apreço e isso tem que ser levado em
conta ao se avaliar Vanity Fair, a novel
without a hero, serializada entre 1847-8, crítica ao individualismo e à
leviandade social, perpetrada pelo inglês William Makepiece Thackery. Correto que as situações servem como lingerie
customizada no mundo Kardashian das Mulheres Ricas (Pobres pros p(o)adrões da
superada Paris), mas o tom geral não é o do cinismo indiferente e amoral fuck-óffico
da pós-modernidade. Os cambalachos e subterfúgios das personagens guardam o
travo da admoestação de exemplo a não ser seguido, que de nada adiantou: uma
das revistas mais famosas na arte de dar
a impressão de que leitores “comuns” participam do grand monde chama-se Vanity Fair.
O romance não tem herói porque mesmo Amelia, sua
personagem mais doce e sofredora (um saco de jovem e de mulher, que faz a gente
sadisticamente torcer pra que sofra mesmo de tão chata!) não tem nada de
especial ou elevatório à condição de heroína de romance; o próprio narrador
admite.
1848 foi o ano em que parte da Europa viveu
perigosamente: muita gente pegou em armas pra cobrar a parte do bolo prometida,
mas sempre devorada, pela burguesia vencedora na luta contra a nobreza.
Thackeray não poupou ninguém em sua denúncia das máscaras e mesquinharia
abundantes no convívio social. Nobres, burgueses, criados, todos lutam pra
passar outrem pra trás e tirar vantagem, fazendo de Gerson parco amador.
Vanity Fair conta as a/desventuras dum grupo de pessoas
ao longo de décadas. Folhetinescamente, temos o núcleo de Becky Sharp (pobre) e
o de Amelia Sedley (rico), que se mistura, multiplica, cambia de posição, vai e
vem.
Becky Sharp (atente pra esse sobrenome!) é atípica no
romance do século XIX: luta sozinha num mundo onde a ascensão social pras
mulheres quase só é possível através do casamento. Na apresentação da
personagem, o narrador – que trai diversas vezes sua antipatia por essa mulher
tão “perigosa” – meio que a masculiniza atribuindo-lhe características do então
chamado “sexo forte” pra explicar e justificar o caráter agressivo em
comparação ao contraponto de Amelia Sedley.
Amelia podia se dar ao luxo de ser sexo frágil porque
tinha as armas da ascensão social nas mãos. Só que não. As armas estavam nas
mãos do homem, do papai. Só que também não. A História volta e meia dá seus
tapas na cara das confundidas personagens pra relembrá-los doloridamente que
muito do que se imagina individual é na verdade determinado historicamente.
O enredo começa no início do século XIX, quando a
Inglaterra era assombrada com a possibilidade da invasão francesa via Napoleão.
A ascendência francesa de Becky não seria meio de tornar a personagem
antipática ou vilanesca? Afinal, os franceses eram rivais históricos dos
anglos. Becky invadir a sociedade equivalia a uma nova invasão normanda?
O colonialismo britânico já trazia mulatos e negros pra
povoar a ficção escrita no país. Até uma herdeira mulata desponta como
personagem importante, ainda que devemos notar que se trata duma sátira. Será
que os romances “sérios” radiografavam a presença não caucasiana?
Em 1847, a palavra tapioca já era conhecida dos
britânicos, através do Tapioca Coffee House e também que Bonaparte era chamado
de Boney. Por isso que folhetim é legal!
Vanity Fair é um calhamaço; tenho a versão em papel,
mas o diminuto da fonte sempre me espantava. O advento do ebook, que permite
aumentar a letra propiciou a agradável leitura desse clássico, que embora não tão
coeso no sentido da forma romance, mantém o interesse por quase toda a leitura.
Funciona ainda no século XXI, acreditem.


Nenhum comentário:
Postar um comentário