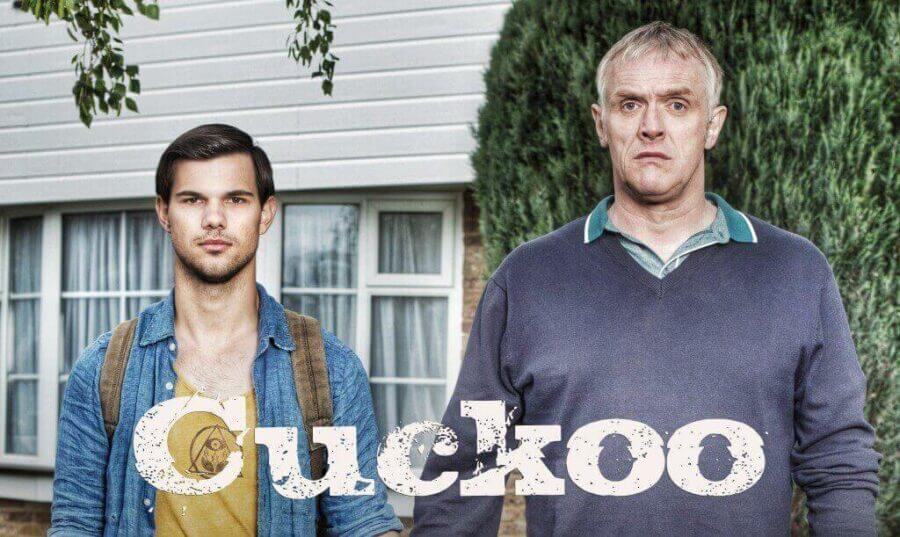'Tenho medo do meu próprio filho': o desafio de lidar com crises de crianças com autismo
O desabafo é de Lucy Goldsworthy, mãe de Elliot, de 12 anos, diagnosticado com autismo severo no Reino Unido. Ele não fala, enfrenta dificuldades de aprendizagem e tem crises nervosas que já a deixaram com o lábio cortado e hematomas por todo o corpo. O pai, Ian, teve a córnea arranhada após ser atingido por um soco.
Em entrevista à BBC, pais como Ian relatam cenas de violência - e dizem ter muita incerteza em relação ao futuro. Muitos afirmam temer os próprios filhos e cobram das autoridades ajuda para lidar com a questão.
A Organização Mundial da Saúde estima que o Transtorno do Espectro Autista afete uma em cada 160 crianças no mundo - mas ele pode se manifestar em uma ampla gradação, de graus mais leves aos mais agudos. É importante ressaltar, porém, que nem todos os autistas são agressivos e que não há nenhuma evidência de que sejam mais propensos à violência.
A Sociedade Nacional de Autismo do Reino Unido ressalta, porém, que é necessário que haja assistência às famílias, em especial às de crianças que sofrem com crises agressivas mais frequentes.
No Brasil, a Associação de Amigos do Autista (AMA), que dá apoio a 350 crianças com autismo em São Paulo, também recomenda, em seu site, um tratamento multidisciplinar com orientação familiar, intervenções psicoeducacionais e uso de técnicas para desenvolvimento da linguagem e comunicação.
Ian Goldsworthy: 'Você meio que se acostuma em ver o quarto de seu filho parecer uma cela'
Crises nervosas normalmente acontecem quando há acúmulo de informações sensoriais simultâneas que elevam o nível de estresse do autista. A frequência, contudo, varia de pessoa para pessoa e também depende do espectro em que o autista se enquadra. Além disso, elas não se limitam aos diagnosticados com autismo - há outros transtornos que também têm, entre os sintomas, agitação extrema e comportamento agressivo.
"É um assunto sério e muito difícil, mas as famílias precisam enfrentá-lo", afirma Ana Maria Mello, superintendente da AMA, instituição que ajudou a fundar há mais de 30 anos. Ela mesmo diz que seu filho, hoje com 39 anos e diagnosticado com autismo na infância, passou a ter crises nervosas na adolescência.
"Ele foi crescendo e entrou numa fase de muita agressividade. No início, ficávamos cheio de hematomas. Foi preciso aprender a segurá-lo sem me machucar e sem machucá-lo", conta Ana Maria, dizendo que as crises agressivas não podem ser tratadas como tabu.
Ela conta que, com o tempo, aprendeu a lidar com os episódios agressivos e descobriu que o filho relaxa fazendo caminhadas.
Entre grades
No caso do britânico Elliot, os episódios começaram a ficar mais violentos quando ele tinha cinco anos. Os pais relatam que, à medida que ele vai crescendo e ficando mais forte, torna-se cada vez mais difícil de controlar as crises.
"Se ele ainda fosse uma criança pequena, seria mais fácil conter um ataque, com ele te arranhando e te chutando", diz Lucy. "Agora, é como se um pequeno homem te atacasse de repente."
A mãe de Elliot explica que ele é violento durante apenas cerca de 5% do tempo, mas que os efeitos das crises estão cada dia piores.
Ian e Lucy tiveram de colocar grades na janela do quarto do menino e trancar a porta para manter ele e os irmãos seguros.
Escola britânica que está ensinando ioga a alunos com autismo para reduzir crises nervos
"Você meio que se acostuma a ver o quarto de seu filho parecer uma cela", diz o pai.
Elliot frequenta uma escola especial, mas os pais afirmam que as autoridades locais - através do Sistema Nacional de Saúde (o NHS, na sigla em inglês) - não lhe dão nenhum tipo de apoio. Segundo eles, a ajuda governamental só é oferecida se o filho ou os pais são hospitalizados ou se a polícia é chamada.
Ela diz que, após ter sido ferida na cabeça pelo menino após uma crise violenta, acreditou que teria mais apoio. "No começo, recebi um pouco de ajuda", diz a mãe, emendando que depois as autoridades tentaram "lavar as mãos" e passaram a oferecer apenas 48 horas de ajuda por ano.
Estratégias
Segundo a OMS, estudos conduzidos nos últimos 50 anos revelam que o número de pessoas diagnosticadas está aumentando no mundo inteiro. As explicações para esse aumento apontam para diagnósticos mais eficientes, mais conscientização e registros mais precisos.
Nos Estados Unidos, um estudo de 2011 indicou que quase metade de 1,4 mil crianças com autismo avaliadas pelos pesquisadores tinha crises muito agressivas e violentas.
Autistas podem, por exemplo, se sentir incomodados com muita informação, luzes brilhantes e barulho.
A BBC Brasil mostrou recentemente que uma escola no norte de Londres, na Inglaterra, está ensinando ioga a alunos com autismo para reduzir suas crises nervosas. Até agora, a iniciativa se provou bem-sucedida.
O site da organização brasileira Entendendo Autismo explica que a agressividade e a irritabilidade podem derivar do fato de que as crianças com autismo, por não entenderem alguns símbolos sociais, não conseguem encontrar formas de expressar em determinadas situações. Elas também costumam ser hipersensíveis ao barulho, por exemplo.
Entre as sugestões para lidar com episódios de agressividade estão levar a criança a ambientes onde se sintam confortáveis e usar jogos ou brinquedos que tenham efeito tranquilizador. Não é recomendável gritar com a criança. E também é importante que ela tenha um acompanhamento profissional interdisciplinar.
O neurologista infantil Clay Brites, integrante do Instituto Neurosaber e do Disapre (Laboratório de Pesquisas em Distúrbios, Dificuldades de Aprendizagem e Transtorno de Atenção), da Unicamp, ressalta que "nem todas as famílias de autistas sofrem com agressividade - há autistas que são excessivamente passivos e propensos, inclusive, a sofrer agressividade e abusos".
"A propensão do Transtorno do Espectro Autista a desenvolver agressividade é gerada pela sua condição, e não por voluntarismo ou maldade", explica ele por e-mail à BBC Brasil.
"Por outro lado, é importante saber que existem casos em que a agressividade, explícita e exagerada, tem que ser conduzida com internações e contenções. Geralmente, ocorrem naqueles casos de TEA severo e associado a comorbidades psiquiátricas como a esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno opositivo-desafiador. É importante sublinhar a importância do diagnóstico e da intervenção precoces para prevenir esses comportamentos em idades mais tardias", agrega.
'Ele é gentil por natureza'
Cameron, de 19 anos, é uma das 700 mil pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista no Reino Unido.
O diagnóstico veio aos três anos de idade, e o pai dele, Douglas Clements, diz que também tem medo das crises do filho. "Muitas vezes não sei como Cameron vai reagir, e é assustador", afirma.
Cameron hoje recebe atendimento diário em um centro especializado. Mas a vida em casa tem ficado cada vez mais difícil, e seus pais estão procurando por um espaço público que abrigue crianças e adultos vulneráveis que fique perto de onde moram em Surrey, na Inglaterra.
Hannah, mãe do jovem, diz que a família não consegue mais administrar o comportamento dele.
"Estou muito chateada, porque o amo muito", diz ela. "Não quero que as pessoas tenham medo dele, porque ele é gentil por natureza", acrescenta a mãe, que diz ser desolador ver o filho ficar frustrado, mas não conseguir explicar o porquê.
Os pais de Cameron estão procurando um lugar perto de casa para o filho, de 19 anos, receber cuidados especiais
'Vamos para a cama aos prantos'
O serviço de saúde britânico informa que estabeleceu "um programa transparente" dedicado àqueles com dificuldade de aprendizagem e autismo para permitir que mais pessoas nessas condições vivam em suas comunidades, "com o apoio certo e perto de casa".
Os pais de Elliot Goldsworthy acreditam que, à medida que o filho envelhecer, precisarão cada vez mais de apoio.
"Há momentos em que vamos para a cama aos prantos", disse Ian Goldsworthy. "Mas você não pode mergulhar nesse sentimento, porque a vida será exatamente a mesma no dia seguinte."
No Brasil
No Brasil, Ana Maria Mello, da AMA, diz que não há nenhuma política governamental para apoiar pais ou autistas. "Para conseguir uma vaga numa instituição é preciso recorrer ao Ministério Público e processar o governo", lamenta, dizendo que tem procurado autoridades para tentar regulamentar práticas e assegurar assistência mínima.
Ana Maria diz que, no Brasil, em casos extremos, autistas são hospitalizados, onde recebem medicamento e às vezes são amarrados numa cama. Ela, contudo, defende abordagens menos intrusivas.
Entre os 350 autistas que recebem atendimento gratuito na AMA, 26 são residentes. Voltam para casa de 15 em 15 dias, para não perder contato com a família. Os outros atendidos passam o dia ou meio perído na associação, que tem sede em São Paulo.
Ana Maria conta que a associação sempre buscou referências e experiências de iniciativas no exterior, em especial sobre as melhores formas de conter as crises nervosas mais severas.
"Logo no início mandamos uma pessoa aos EUA para ver como o assunto era tratado. Lá não se amarra nem se dá medicamento, mas há regulamentação e treinamento", conta.
Ela diz que a AMA tem recorrido ao método americano que usa duas pessoas para conter uma crise com movimentos sincronizados e um programa para melhorar o comprotamento de autistas. "Muitas vezes não se trata só de oferecer atividades relaxantes, mas de é uma questão de ocupar o tempo", complementa.
"É realmente horrível. Você ama seu filho, mas ele pode te machucar", afirma, ponderando que, com as estratégias de contenção e atividades físicas, é possível conter os mais agressivos, reduzir o número de crise e melhorar o comportamento.